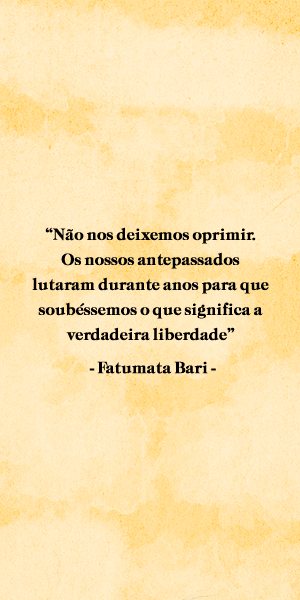É filósofa, feminista negra, escritora e investigadora. Djamila Ribeiro é uma das mais sonantes vozes contemporâneas do movimento negro, no Brasil. Conhecida pelo ativismo nas redes sociais, tem contribuído para colocar o tema do racismo estrutural no debate público e tem aberto caminho para outros autores e autoras negros, no mundo académico e no mercado editorial brasileiro.
O seu livro Lugar de fala (2017) foi o primeiro título com o selo Sueli Carneiro – que publica obras de autores negros a preços mais acessíveis – e também o primeiro da coleção que coordena, Feminismos Plurais – que pretende disseminar conteúdo crítico, produzido por pessoas negras, sobretudo, mulheres, com linguagem didática.
Depois de Quem tem medo do feminismo negro? (2018), Djamila Ribeiro lançou, em 2019, o Pequeno Manual Antirracista, o livro mais vendido no Brasil nesse ano, e vencedor do prémio Jabuti – o mais antigo prémio literário no país –, na categoria “Ciências Humanas”.
“Não podemos falar de racismo, querermos ser antirracistas, sem entender os processos históricos que criaram essas desigualdades”, diz, nesta entrevista à BANTUMEN, a também colunista do jornal Folha de S. Paulo e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Para a filósofa e ativista, com mais de 500 mil exemplares vendidos, é preciso que as pessoas leiam autores negros, “para que se possam responsabilizar” e também para que os negros entendam que há uma “geração que beneficiou de lutas que foram feitas antes de nós.” Considera também que é importante que cada pessoa tenha ações para ajudar a construir uma sociedade mais justa: “Não basta dizer que se é antirracista e nada fazer para mudar”.
Criou, há cinco anos, o selo Sueli Carneiro, que publica livros de autores negros a preços mais acessíveis. Há um problema de publicação de autoras e autores negros ainda hoje no Brasil?
Sim, há um problema. Até 2016, por exemplo, segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dos autores publicados, no Brasil, 90% eram brancos – e, maioritariamente, homens brancos. Num país de maioria negra como o Brasil, isso soava um tanto alarmante. As grandes editoras ainda resistiam muito à publicação de autores negros, a não ser traduções de grandes autores internacionais. Existiam iniciativas no Brasil de editoras negras que foram muito importantes, como a Mazza e a Editora Pallas, mas os autores negros ainda não conseguiam publicar. Como disse Conceição Evaristo, uma das maiores escritoras brasileiras, para as mulheres negras, a questão não é só escrever, é publicar.
Quando lançamos o selo [Sueli Carneiro], em 2017, eu publico-me também. Nunca tinha publicado um livro. Quando lanço o Lugar de Fala, o primeiro da coleção Feminismos Plurais, entendi que precisava de fazer parte de algo coletivo, que não podia fazer sozinha. Então, quando lanço o livro, já estavam programados vários títulos para sair, na coleção. Hoje, no total, temos 16 livros publicados, contando agora com o selo infantil, Carneirinho, que vamos lançar no próximo mês. O livro já está pronto inclusive. Betha, a Bailarina Pretinha foi escrito por Bethânia Nascimento, filha de Beatriz Nascimento, que é uma grande ativista negra brasileira.
O facto de a gente ter publicado livros baratos, em lugares públicos, por vários lugares do Brasil, trouxe uma atenção, e isso fez com que, inclusive, fosse chamada para escrever numa grande editora – hoje sou autora da Companhia das Letras. Forçámos o mercado editorial a publicar mais autores negros.
Sente que o debate racial já furou, definitivamente, a bolha académica e da militância?
Acho que não definitivamente, porque o Brasil é um país muito grande, com desigualdades seculares, mas, sem dúvida nenhuma, hoje o debate é público. Se há um ganho que podemos falar com certeza é que hoje as pessoas estão a falar mais sobre racismo. Conseguimos inclusive pautar, muitas vezes, os media hegemónicos. Os assuntos estão a ser debatidos, sobretudo, por causa das redes sociais.
Mas sem dúvida que a coleção [Feminismos Plurais] fura bolhas, até na academia. Porque a academia, no Brasil, é muito eurocêntrica. Ainda resiste muito à valorização das epistemologias negras, e muitos dos títulos da coleção são referências bibliográficas em cursos de graduação e pós-graduação, no Brasil. Mas o que mais queríamos era que a população, independentemente de estar na academia, ou não, tivesse acesso. E isso é uma coisa que nos alegra.
Antes da pandemia, fazíamos muitos eventos, por várias regiões do Brasil, rompendo com o eixo São Paulo-Rio, a que o brasileiro fica muito preso. Fizemos um evento no Acre, que é no norte do Brasil. Fizemos eventos no Nordeste. No Acre, havia duas mil pessoas, em Fortaleza, três mil, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, duas mil. Isso é muita coisa no lançamento de um livro, então ficamos felizes de termos conseguido fazer com que essas discussões se popularizassem mais. Claro que ainda temos um grande caminho pela frente. Não dá para negar a importância das políticas públicas, de que precisamos neste país, mas, sem dúvida nenhuma, hoje, no Brasil, esse debate está a ser feito no debate público.
Nos seus vários livros faz inúmeras referências a outros autores negros. Qual é a importância de visibilizar e de resgatar outros autores e autoras que foram silenciados, ao longo da história?
Penso que é importante, para uma geração como a minha, que vem de políticas públicas na área da educação – eu fui a primeira pessoa da minha família a andar na faculdade, por causa dessas políticas –, entender quem lutou para que pudéssemos ocupar os espaços que ocupamos hoje. Porque, às vezes, a geração mais nova acha que está a inventar a roda e não entende que há toda uma luta histórica. E também as pessoas brancas acham que é moda, que é o momento, e não um movimento histórico que já começou há muito tempo. A importância é, justamente, nunca perder a perspetiva histórica e valorizar quem pavimentou esses caminhos, mostrar que existem muitos escritores negros – o problema é que foram invisibilizados pela história –, porque sem isso não dá para pensar o Brasil. Em todos os livros, faço isso. E, na coleção [Feminismos Plurais], todos os autores, para fazerem parte, precisam de citar, maioritariamente, nas referências bibliográficas, autoras e autores negros. Porque é importante a valorização desse movimento e o nosso reconhecimento de uma geração que beneficiou de lutas que foram feitas antes de nós.
Cada vez mais autores negros são lidos e têm obras publicadas. Podemos dizer que estamos no início do fim do eurocentrismo branco, na academia?
Talvez. Eu gosto disso. Temos um longo caminho ainda, mas é o início do fim. A minha geração não tinha um acesso tão facilitado assim aos media, muito pelo contrário. Na minha época de graduação, tive de pesquisar muito. Acho que esta geração que está a vir agora vai ter muito mais facilidade em encontrar determinadas biografias e, dentro desses espaços, vai cobrar mais ainda. Sem dúvida nenhuma, é o início do fim. Por causa desses movimentos que começaram há muito tempo, conseguimos forçar essa mudança.
Quando os negros debatem o racismo, isso ainda é visto como algo identitário?
Muito, no Brasil, inclusive por parte da esquerda brasileira. Parte dela incomoda-se com esse debate, diz que é identitário, que a questão é de classe, como se nós estivéssemos a negar isso. O que é interessante, quando falam do que é identitarismo – porque isso é um não-conceito, não-existe, porque branquitude e masculinidade também são uma identidade –, é que a invenção moderna do sujeito universal fez com que os homens brancos se entendessem como universais e não como específicos. Eles também falam a partir de um lugar, que é o lugar da branquitude, o lugar do poder. É uma inversão lógica querer colocar como identitário, quando, na verdade, isto é um debate estrutural. O racismo estrutura as relações sociais, o sexismo estrutura as relações sociais, assim como a opressão de classe. Nós pensamos essas opressões de modo entrecruzado e indissociável. A mulher negra no Brasil é a base da pirâmide, porque entrecruza opressão de classe, raça e género.
É também um incómodo do sujeito branco – digo, como categoria – perder o monopólio sistémico. Eles também ficam nesses incómodos. Eles não lêem o que os autores negros falam sobre o tema. Não lêem, porque não estamos a falar do que eles rebatem. Eles debatem espantalhos argumentativos que não existem e não entendem que o homem branco também é específico, que não é universal. O que incomoda é a quebra desse pretenso universalismo, que não contempla outras formas de ser. Acho que nós, como pessoas negras, estamos a ampliar e a resignificar o que é a universalidade.
Não basta dizer que se é antirracista e nada fazer para mudar, porque aí fica mesmo só no campo moral
Djamila Ribeiro
Fala que não é possível não se ser racista, quando se é criado numa sociedade estruturalmente racista, que cria privilégios num sistema estruturado sobre a opressão de pessoas negras. Ou seja, não se é racista moralmente, mas por condição. Costuma dizer-se que o primeiro passo para resolver um problema é assumi-lo, mas, quando há uma carga simbólica tão grande no que é ser-se racista, isso não cria uma barreira muito grande?
Acho que não, porque o Brasil é um país que, durante muitos anos, negou a existência do racismo. O Brasil é um país fundado no mito da democracia racial. Diz que aqui não existiria racismo, que isso seria um problema dos Estados Unidos da América, da África do Sul. Isso dificultou muito uma consciencialização sobre racismo, inclusive, para as pessoas negras que tiveram dificuldade de se entender como negras.
Então, assumir-se racista é muito importante, sobretudo, num país que teve este contexto, que negou a existência do racismo e, com isso, adiou muito a criação de políticas públicas para combatê-lo. Nomear é muito importante, dentro da tradição do feminismo negro. É fundamental. Se não nomeio o problema, não consigo pensar em soluções para algo que nem sequer tem nome. Dizer-se racista, assumir-se racista, é entender a sua responsabilidade no combate ao racismo, que isso não é um problema das pessoas negras, que isso é um problema das pessoas brancas também, que vivemos em relações raciais. Não assumia querer delegar para os negros resolverem, como se a branquitude não tivesse nenhum papel nisso. Não dá para a fazermos mudanças no conforto, esse desconforto é necessário para que consigamos, de facto, mudar as coisas.
Por outro lado, se pensarmos no lugar de privilégio como algo positivo e que traz benefícios para quem está nessa mesma posição, o que a leva a crer que as pessoas tenham interesse, estejam disponíveis para colocar esse lugar em causa, para abrir mão desses privilégios, por uma sociedade mais justa para todos?
Muitas delas não estarão. Como Grada Kilomba fala, no Memórias da Plantação, a primeira reação das pessoas brancas é reprimir, é não entrar em contacto com o que ela chama de verdades desagradáveis. As pessoas que estão nesse lugar de privilégio têm muita dificuldade em entender que os seus privilégios não são naturais ou foram providencialmente fixados. Eles foram construídos à base da opressão de outros grupos. E é por isso que é importante que essas pessoas leiam e entendam, para que se possam responsabilizar. Porque, se não, continuam a naturalizar, a viver somente com pessoas brancas, a achar que só pessoas como elas têm o direito de estar naqueles lugares, não entendendo outras visões do mundo. O privilegiado resiste, sem dúvida nenhuma, porque também não quer perder uma série de condições favoráveis que tem.
Então há aqui um lado moral de querer uma sociedade mais justa? Ou seja, quero fazer parte de uma sociedade mais justa e, por isso, quero abrir mão dos meus privilégios…
Por mais que a pessoa branca seja antirracista, estruturalmente, não vai deixar de ser beneficiada pelo racismo, porque é branca. A responsabilidade individual é importante, mas é sempre bom entender isto. Ela vai ganhar mais do que eu, independentemente de querer ou não, porque a sociedade foi estruturada assim. Agora, o que pode fazer é responsabilizar-se pela construção de uma sociedade em que essas hierarquias não existam mais. Se é professor, isso significa rever a sua bibliografia. Quem está a ensinar? Se pessoas negras pensam o mundo, porque é que a nossa bibliografia é só branca? Se é empregador, está a pensar que é importante criar um programa, dentro da empresa, de diversidade, por exemplo? Se é pai ou mãe, como é que está a educar o seu filho? É importante entender a ação que a pessoa vai ter, de facto, para a construção de uma sociedade mais justa. Não basta dizer que se é antirracista e nada fazer para mudar, porque aí fica mesmo só no campo moral. Entendo a ação política, no sentido amplo, como o que, de facto, essa pessoa está a fazer.
É possível fazer o debate antirracista sem recuar, ou, pelo menos, ter na memória, mais de 500 anos de história?
Eu discordo da visão de empatia, no sentido de se colocar no lugar do outro, porque é impossível colocarmo-nos no lugar do outro. Por mais que ache, nunca vou saber o que é, por exemplo, ser uma mulher lésbica. Não sei o que é ter o meu afeto criminalizado. Agora, como uma mulher heterossexual, posso e devo entender a empatia como uma construção intelectual. Preciso de ler e entender qual é a realidade desse grupo social, independentemente de fazer parte dele, porque vivemos em sociedade.
A minha ação afeta a ação das outras pessoas e afeta a vida das outras pessoas. Então, entendo empatia como uma construção intelectual. É fundamental que as pessoas estudem sobre os temas. Não podemos falar de racismo, querermos ser antirracistas, sem entender os processos históricos que criaram essas desigualdades. É impossível não entendermos por que é que a mulher negra ganha menos, de onde vem isso, como se originam essas realidades. E é um processo para a vida inteira. É um processo, não é algo que é instantâneo, que aconteceu agora e pronto. Exige empenho e esforço da nossa parte.
Dando o meu exemplo, tive que ler sobre a questão da mulher lésbica para entender que não existem políticas de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), no Brasil, voltadas para estas mulheres. Fui entender uma série de questões. E, com isso, posso o quê? Bem, na minha coleção, chamar uma autora lésbica para escrever – foi o que fiz, é um livro que vai sair este ano. Posso, dentro das reuniões do movimento feminista, apoiar as lutas das companheiras lésbicas, entender por que são importantes para o Brasil, e não só para elas. E posso também examinar-me, porque somos criados para reproduzir opressões. Posso entender quando mudar o meu comportamento.
É um trabalho para a vida inteira que vai exigir empenho e que passa, necessariamente, por conhecermos essas realidades. Porque a construção intelectual afeta a minha ação política. Vou saber o que fazer, a partir do momento em que conheço aquela realidade. Não há forma de a minha opinião se engajar na luta antirracista, sem conhecer todo o histórico que abarca.

Já falou na importância das políticas públicas, no Brasil. Assistimos hoje a um ressurgir de movimentos extremistas e fascistas em vários pontos do mundo. Estas forças contrárias vêm, de alguma forma, ameaçar aquele que está a ser o trabalho dos movimentos negros, ou não nos temos de preocupar com isso, no sentido em que possam barrar avanços no combate ao racismo e às desigualdades sociais?
Precisamos, sim, porque infelizmente hoje, no Brasil, vivemos uma situação muito difícil de retrocesso, de desmonte de políticas. Por exemplo, este ano de 2022 faz dez anos das políticas de quotas. Agora vão votar se vão continuar mais dez anos, e sabemos o quanto as políticas de ações afirmativas são importantes, no sentido de aumentar a presença negra nas universidades e no setor público – temos a lei federal de quotas. Sem dúvida nenhuma, precisamos de nos preocupar, inclusive, de nos mobilizar, para que políticas como essas não sejam derrubadas. No momento conservador pelo qual o Brasil passa, é muito preocupante. Temos muito medo que não renovem por mais dez anos. Temos de estar muito atentos, sim, sobretudo, em ano eleitoral, como este. É importante estarmos atentos aos projetos políticos que vamos apoiar e entendermos se esses projetos políticos estão comprometidos com as nossas reivindicações. As forças contrárias estão aí, para derrubar os poucos avanços que tivemos nos últimos anos.
Há políticos com receio de afirmarem posições antirracistas por medo de perder eleitorado?
Sim, existe, e também [com receio de assumir posições] a favor das mulheres. Por exemplo, a pauta da discriminação do aborto é uma pauta que impacta diretamente as mulheres negras, num país onde morrem centenas de milhares de mulheres, todos os anos, e a maioria delas negras. São mulheres negras e pobres que estão a morrer, no Brasil. As mulheres brancas de classe média, pagam. Toda a gente sabe. No Brasil, hoje em dia, com o avanço das igrejas neopentecostais e das bancadas evangélicas – que são um projeto político de poder e estão presentes em muitos espaços institucionais –, [a discussão] fica no debate religioso e moral, quando é um debate de saúde pública. Independentemente de se você não faria [um aborto] – e está tudo bem –, não pode deixar de existir a política, porque temos os dados das mulheres que morrem. Os candidatos à presidência não falam sobre isso, mesmo os progressistas. Mas as mulheres negras estão a morrer. Mas não podemos falar, porque senão vamos perder votos dos evangélicos, por exemplo, que são uma grande massa hoje no Brasil.
Não podemos falar de uma outra política de segurança pública, porque senão vamos perder votos dos evangélicos, num país em que, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado, em que há um super aprisionamento de homens negros, por causa da Lei de Drogas. E a descriminalização das drogas, por exemplo, é um debate importante que não é falado. A segurança pública é um tema fundamental, num país em que a população negra é uma das que mais morre vítima da violência policial, e em que a polícia [negra] é a que mais morre também. Esses polícias vêm dos mesmos lugares sociais desses homens que estão a matar, mas não estão a representar-se a si mesmos, estão a representar o Estado. Muitos temas não são falados, infelizmente.
O seu pai era um ativista do movimento negro, e isso certamente que a despertou para sua negritude desde cedo. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, as pessoas são confrontadas com o racismo, oprimidas, violentadas, mas, de certa forma, não têm instrumentos para o combater e, muitas vezes, não têm sequer como desconstruir e entender aquilo por que passam. Acha que esta realidade tem mudado, nos últimos anos, e que sua geração e as gerações que vêm a seguir são gerações muito mais conscientes, ou que começam a procurar perceber muito mais cedo o que significa a sua negritude?
Na minha geração, isso era muito mais violento. Acho que tem aumentado a consciencialização das pessoas sobre serem negras. Hoje, no Brasil, a maioria da população declara-se negra, segundo nos censos. Isso é um trabalho importante dos movimentos negros, de ampliação da concentração. Se a maioria das pessoas, entendendo que somos diversos – existem negros de pele clara, negros de pele escura –, se declara negra, é por causa desse trabalho de consciencialização, que, claro, precisa de continuar.
Ainda passamos por situações muito complexas, nas escolas, no Brasil. É importante citar. Tivemos a Lei 10639 de 2003, que é a lei que obriga o ensino da história afro-brasileira nas escolas. Tivemos alguns marcos legais que foram importantes, e um avanço da discussão, das escolas terem de adotar os livros, de terem de falar desses temas. Sinto que avançou muito essa discussão, mas, claro, ainda temos um longo caminho pela frente, porque o Brasil é muito grande. É um país de 200 milhões de pessoas, é um país continental e, sobretudo, em certas partes, essa discussão ainda está muito distante.
É importante que eles não se contaminem tanto com o imediatismo das redes sociais, que entendam a importância de ler e de conhecer a nossa história, porque um povo sem história é um povo que não existe
Djamila Ribeiro
O seu processo de consciencialização, como mulher negra, é diferente daquele que foi o da sua mãe, o da sua avó, e daquele que é agora o da sua filha?
Com certeza. A minha avó teve de trabalhar desde cedo. Teve sete filhos. A preocupação primeira da minha avó era a sobrevivência. A minha mãe também foi trabalhadora doméstica, até casar com o meu pai. Teve uma outra construção. Nas famílias negras brasileiras, é muito comum que as nossas avós e mães, por mais que não tenham tido acesso à educação, saibam da sua importância. Elas lutaram muito para que tivéssemos [acesso à educação]. Eu venho dessa mesma trajetória, de famílias que não puderam estudar, mas que lutaram para que estudássemos. Então, já parto de um lugar diferente, quebro um ciclo de exclusão, por causa das políticas públicas de educação. O ciclo do trabalho doméstico foi quebrado na minha geração. Eu pude estudar, e a minha filha já parte de um outro lugar distinto, inclusive, daquele do qual eu parti. Ela já vem de outro lugar, por causa de todos esses caminhos que foram sendo construídos. Talvez, se tiver netos, eles vão partir de algum lugar ainda mais distinto.
O que espera que a nova geração faça pela luta antirracista?
É importante que eles não se contaminem tanto com o imediatismo das redes sociais, que entendam a importância de ler e de conhecer a nossa história, porque um povo sem história é um povo que não existe. Precisamos saber de onde viemos e para onde vamos, onde queremos chegar. [É importante] que eles continuem nesse caminho, nessa construção, que os anteriores a nós começaram. É muito claro que têm oportunidades que nós não tivemos, mas [é importante] também que entendam que isto não é uma conquista individual, que é uma conquista coletiva, que vem de muita luta – para não reproduzir essa lógica da meritocracia. [É importante] que tenham consciência crítica de que ocupam esses lugares por causa de uma construção coletiva.
E como é que os negros podem fazer para que os seus corpos não se tornem bandeiras de um falso combate ao racismo?
No Pequeno Manual Antirracista, falo do “negro único”. Muitas vezes, aquela pessoa precisa pagar o salário dela e sabe que aquilo é errado. Por isso é que é importante que as pessoas brancas também se consciencializem, que entendam que não é um problema só nosso. O que estão a fazer, sobretudo, nos lugares a que a gente não tem acesso? Para nós, pessoas negras, é importante não nos acomodarmos nesse lugar, pensarmos sempre como é possível estendermos isso [a outras pessoas]. No meu caso, entendi que conseguiria fazer uma coleção [de livros], em 2017. Como é que ia usar essa visibilidade para algo coletivo? Poderia ter-me publicado só a mim, mas acho que é importante termos essa consciência do que é possível fazer, dentro dos nossos limites, sem apontar dedos – porque não sabemos qual é a realidade daquelas pessoas. Mas que elas nunca se acomodem e que pensem no que é possível fazer para que consigamos avançar como um grupo.
O silêncio é o maior inimigo da luta antirracista?
Sem dúvida, sobretudo, o silêncio estrutural, o silêncio institucional – não vamos falar sobre isso –, ou o silêncio das vidas que são silenciadas, das pessoas verem que aquele espaço é um espaço maioritariamente branco e nada dizerem sobre isso. Somos sempre nós, as pessoas negras, que temos de quebrar esse silêncio. O silêncio leva também a uma solidão das pessoas negras que estão nesses espaços, a que chamo solidão institucional. Somos a única pessoa, e as outras pessoas como nós estão em empregos subalternizados, e isso também nos afeta. Então, a quebra do silêncio é fundamental para que as verdades desagradáveis sejam ditas e escutadas.
E é possível participar-se na luta antirracista sem se implicar?
É impossível. Eu, como uma intelectual pública, tenho de me implicar a mim mesma, tenho de lidar com ataques. Tenho de lidar com uma série de questões. “Ah, mas perdi um círculo de amigos…” É o preço que pagamos. Não há outra forma. Acho que é melhor ser incómodo do que ser omisso. É uma escolha que precisamos fazer. Precisamos entender que vai haver um preço a pagar e estarmos dispostos a isso. Estamos a pagar esse preço, querendo ou não, porque somos pessoas negras. [Somos] pessoas que tivemos, na nossa família, pessoas agredidas. Quantas mães enterraram seus filhos? Quais são as consequências para essas mulheres? São muito mais graves do que elas querendo ou não [implicar-se]. Então há um preço a pagar e acho que é necessário, se quisermos fazer a mudança, estarmos conscientes disso.