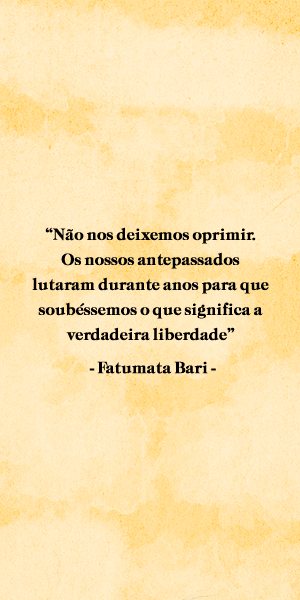Nascido em Ituiutaba, Luan Okun é um artista trans não-binário cuja jornada artística começou em 2014, nos corredores da Universidade Federal de Uberlândia, onde estudou teatro e iniciou as suas produções artísticas e performáticas.
Agora a viver em Lisboa, Luan tem se destacado na cena artística da capital portuguesa desde 2020. O corpo é a sua ferramenta principal, descrevendo-o como “uma corpa dissidente de género, racializada e gorda”. Essa escolha, como diz, é impulsionada pelo desejo e pela força individual de desafiar as estruturas “condicionantes aos nossos corpos pela normatividade e colonização”.
As performances de Luan Okun são um manifesto em movimento, um ato de resistência que aborda questões cruciais de raça, imigração, género e representação do corpo. Entre estímulos sonoros, cheiros e projeções, Okun cria um espaço onde o corpo racializado se move, desafiando a hipersexualização que muitas vezes o envolve.
Mas a sua arte vai além do palco. Os seus workshops, parte diálogo e parte experimentação, convidam os participantes a pensar com o corpo, desafiando não apenas as convenções artísticas, mas também as narrativas que moldam as nossas vidas. E, para além disso, cofundou a Casa T, uma casa de acolhimento para pessoas trans e imigrantes em situações vulneráveis.
Num encontro transatlântico entre Minas Gerais e Lisboa, embarcamos numa conversa que transcende o convencional, onde a corpovivência e a espiritualidade se entrelaçam na essência do seu fazer artístico.
Começaste os teus estudos artísticos em 2014. Podes partilhar as tuas primeiras experiências e o que te atraiu inicialmente para o mundo da arte e da performance?
Lembro-me deste processo na adolescência, durante o ensino médio, quando há toda aquela pressão para escolher um curso ou algo para fazeres, para dar encaminhamento. Eu tenho a lembrança de que nada do que eu fazia ali na escola até então me agradava. Venho de uma escola pública do interior de Minas Gerais, uma cidadezinha chamada Ituiutaba, e durante o meu processo no ensino fundamental, que vai do primeiro ano até ao nono ano, eu não tive aulas de artes. Na escola pública, onde eu estudava, não havia nenhuma aula de arte, nem de desenho, de nada.
Nem educação visual?
Nada, educação visual, nada. Teatro, nada. No máximo, às vezes, coisas para colorir, mas já o desenho pronto para você colorir, e era isso. Quando tive a oportunidade de mudar de escola, foi quando entrou o governo Lula, e ele faz todos os acordos e também cria as escolas técnicas federais dentro do Brasil. Eu tive a oportunidade de estudar numa dessas escolas, e foi nessa escola, no IFTM — Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que tive a oportunidade de conhecer as artes. Aí fui conhecendo as artes através do visual, dos desenhos e tudo mais, [a partir da] minha primeira professora de arte e foi uma paixão. Até então, tudo que eu não sabia o que era, ou o que eu queria, a partir desse momento, já comecei a cogitar alguma coisa.
E quando ainda estava na escola, logo depois tive uma professora de teatro e foi aí onde eu me encontrei mesmo. Já nos primeiros encontros quando a professora chegava e começava a falar, a forma como ela falava, articulada, uma oratória de milhões, falando também de debates políticos e coisas que me faziam, de alguma forma, abrir o olho e questionar. Principalmente a cultura dentro da minha cidade, de Ituiutaba, que pronto é uma cidade pequenininha, uma currutela, digamos, comparado com Portugal, não tinha apoio cultural nenhum.
Dentro da própria cidade, o teatro ele sobrevivia por desejo da comunidade, e muitas das vezes também nesse lugar central. Então não chegava nas periferias, o teatro da cidade. E aí quando eu entrei nessa escola eu tive a oportunidade de conhecer essa professora, e foi uma paixão assim à primeira vista mesmo, e foi onde eu comecei a fazer teatro. Eu estudava nessa escola técnica das sete da manhã até às cinco da tarde porque eu fazia o ensino médio junto com um curso técnico, porque a ideia desses institutos federais é você sair com uma capacitação técnica para você já poder adentrar o mercado de trabalho e também fazer o ensino fundamental.
Foi nesta altura que começaste a trabalhar no sector cultural no Brasil?
Sim, foi. Durante o ensino fundamental, foi quando realmente conheci e decidi procurar quais são as faculdades de teatro próximas, o que posso fazer com isso, qual é o mercado de trabalho. Foi aí que comecei a fazer isso. Havia uma cidade perto de Ituiutaba que tinha uma faculdade voltada para teatro, um curso de teatro na Universidade Federal de Uberlândia. Fiz a prova de habilidade específica, passei, fiz outros vestibulares, passei e comecei a estudar lá. Ao mesmo tempo, percebi que a universidade não era suficiente para o que eu desejava em termos de transformação social e pessoal.
Que tipo de transformação desejavas?
Foi através da rua que fui compreendendo que a universidade não cabia, não abarcava tudo. Entendi ao chegar à universidade, algo que já era o mundo na minha cabeça — eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade federal para estudar, então isso já foi motivo de festa independentemente do curso que eu escolhesse — mas ao entrar na universidade, começar a estudar e ver meus professores, observei que eram sempre do Rio de Janeiro ou São Paulo, ficava nesse eixo. Sempre professores brancos. Não tive um professor negro durante todo o meu percurso na universidade, nem um professor originário. Foi aí que comecei a questionar que tipo de Brasil é esse, que teatro estou estudando, sabe?
Esse teatro sempre voltado… essa linguagem sempre voltada para a Europa, estudar a Europa, os autores da Europa, a dramaturgia da Europa, o modo de fazer teatro da Europa. Questionei se isso não está ignorando minha história… era essa a sensação. A arte de rua, os encontros na rua com as pessoas fazedoras de arte, também, que estão nesse lugar, foi uma grande escola para mim, assim como a universidade. Acredito que teve até um impacto maior, porque foi onde tive a oportunidade de entrar em contacto com aquilo que sinto que faz parte da minha história, apagado durante muito tempo, não presente na universidade, mas resistente nas ruas, nos movimentos sociais, nos movimentos culturais afro-religiosos. A rua foi uma grande professora, mas também estando nesse processo dentro da universidade, comecei a dar aulas pelo Brasil em algumas escolas, trabalhando com crianças.
Fazia também performances, teatro e [participava nos] movimentos culturais porque em Uberlândia tivemos a oportunidade de criar um movimento cultural chamado “Movimento Cultural Olho da Rua”, onde basicamente trabalhávamos com as religiões de matriz africana e escolas onde dávamos aulas, montando um festival de teatro com essas crianças e também outras pessoas que aderiram à ideia. Como não tínhamos financiamento para pagar as pessoas, era meio que uma ideia abraçada pela comunidade para fazer a arte prosperar e ressoar nesses espaços.
Sempre estiveste mais ligado à arte de rua do que propriamente ao sector cultural mainstream do Brasil?
Totalmente. Inclusive eu acredito que esse seja um dos motivos pelos quais eu saí do Brasil. É compreender que eu sou uma pessoa do interior de Minas Gerais. Eu não faço parte desse centro São Paulo, Rio de Janeiro, que é esse eixo maior cultural, onde o dinheiro, o capital gira mais, sabes? E que as pessoas do interior saem do interior para ir para esses grandes centros, para esses grandes polos culturais. Entrando nesse lugar de interior, eu compreendi que era necessário sair. E aí fica esse lugar muito forte pra mim, mas para onde sair agora? Que era necessário sair eu sabia, era a única coisa que eu sabia que era necessário. Que se eu ficasse ali, eu não ia conseguir dar encaminhamento aos desejos que eu tenho de vida.
Então ficou muito latente, muito forte esse pensamento de ‘vou para São Paulo?’, e ao mesmo tempo sabendo que já ainda estava passando por esse adoecimento no Brasil… [um adoecimento] que faz parte ainda da colonização. Que é essa colonização do saber, mesmo. Dentro da universidade, eu sentia que tudo que eu reivindicava de alguma forma e tentava trazer para dentro desses espaços, ele era rejeitado. E aí esse pensamento de ‘você tem que sair, vamos para São Paulo?’, e aí eu pensando, não, São Paulo vai ser mais uma etapa desse adoecimento. Como já tinha uma amiga que estava vivendo aqui em Portugal, em Lisboa, ela disse para eu vir para cá porque disse sentir que aqui a gente tem mais possibilidades, pelo menos na segurança, [ela dizia que] acho que a gente vai se sentir mais seguro, vem para cá e vamos tentar aqui.
Como foi mudares-te do Brasil para Portugal?
Esta mudança foi complexa. Eu me mudei em 2018, dois anos após o golpe que ocorreu no Brasil, no qual a Dilma foi destituída. Foi um momento de muita desesperança. Eu acredito que o adoecimento que eu estava vivenciando naquele momento também estava relacionado à universidade e ao cenário político do Brasil, que persiste desde então. Mas naquele momento, muitas coisas ruins estavam acontecendo ao mesmo tempo. A galera da direita estava tomando um poder assustador muito rapidamente.
Em 2016, ocorreu o golpe. E em 2018, no ano em que me mudei, aconteceu a morte de Marielle em março; eu me mudei em maio. A morte dela foi um soco. Uma compreensão de que não era possível permanecer naquele lugar. Era muito sério; estávamos correndo risco de vida. Eu fazia parte dos movimentos estudantis, então estava em todos os protestos em Brasília, viajava constantemente, estava sempre na linha de frente de alguma forma. Comecei a sentir que não era um lugar seguro e que era necessário sair de lá, por não enxergar segurança e por ter o desejo de mudança e transformação em meu meio. E assim ocorreu a mudança em 2018, que a priori considero mais uma fuga. A princípio, eu estava enxergando como uma fuga daquele lugar violento, uma fuga das não possibilidades, em direção a um lugar onde talvez houvesse possibilidades.
Chegando aqui, ainda sob a sensação forte de fuga, fui compreendendo, mesmo ao longo da minha caminhada, da minha história aqui em Portugal, que na realidade não era apenas uma fuga; era mais um ponto de transformação. Outro lugar onde eu tinha a oportunidade de passar, conhecer e alimentar tudo o que desejava ao sair do Brasil. Essa sensação de fuga me deixou, inicialmente, com medo aqui em Portugal. Eu sentia muito medo porque ainda estava nessa sensação de fuga. Muitas coisas, muitos resquícios do que vivi no Brasil, eu estava trazendo para cá. Até compreender que Portugal não era apenas outro lugar, que sim, tinha muitos resquícios. Inclusive, o que o Brasil se tornou também é responsabilidade daqui.
Tem uma frase da Jota Mombaça que diz “a fuga só acontece porque ela é impossível”. E foi isso para mim; ao chegar aqui em Portugal, entendi que a fuga era impossível. De alguma forma, não se configurava somente nesse lugar. Era também o desejo de me ver como um ser. Eu não tinha necessidade alguma de fugir, sabe? Aliás, há as necessidades de fugir, eu mencionei todas elas, mas teoricamente, nesse lugar ideal, não haveria motivo para eu fugir. O medo de se ser quem é não deveria ser o motivo para a retirada, para a fuga.
Tu dizes que não és artista, mas sim um sobrevivente. Podes explicar este conceito?
A gente tende a mudar, a vida é isso, não é? A gente está vivendo, aprendendo, crescendo, entendendo, deixando de compreender outras coisas. E eu continuo nesse lugar de não me ver enquanto artista, mas talvez mudaria essa palavra, sobrevivente. Mas continuo a não me ver enquanto artista justamente por esse lugar que me foi negado e aí coloco também juntamente com a humanidade, que é esse lugar que me é negado, que me é retirado, de que o que você faz não se configura a arte, o que você faz não tem tanto valor para estar dentro de um museu, o que você faz não tem esse valor para uma branquitude, para pessoas que talvez consumam a arte dessa forma mais fechada, engendrada, que é de ir nos grandes teatros, que é ir nos grandes museus. Então a minha arte não chegava a esses lugares. Se durante toda a minha vida, o meu processo de fazer artístico foi desconfigurado enquanto arte, eu falei tudo bem então, sabe, vamos continuar nesse lugar, vamos desconfigurar, realmente o que eu faço não é arte.
E aí agora o que eu trago, o que eu faço é feitiço, o que eu faço é macumba. E voltando para esse lugar do feitiço, eu consigo compreender que é uma coisa que não acessa a eles, e esse é o meu desejo. Eu sinto que a arte ainda é algo confortável onde eles se sentem muito confortáveis de estar, de falar sobre, de apreciar e tudo mais. Quando eu coloco o meu fazer artístico enquanto feitiço, é compreender que não está aberto para dizerem se tem valor ou não para vocês. Isto falando para a branquitude. Não está aberto pra vocês discutirem se isso cabe ou não dentro de um museu. Não tá aberto para vocês debaterem se tem valor ou não.
É o que eu estou fazendo e isso sim tem valor e que não está aberto para vocês dizerem o valor. Quem sabe o valor disso sou eu. Só eu que sei todo o percurso e de toda a caminhada, de todas as coisas que foram necessárias eu fazer, aprender, abrir mão para de alguma forma estar nesse compartilhar artístico, nesse fazer artístico, que eu vejo como uma feitiçaria, uma grande feitiçaria, um grande encantamento. Eu acredito que vai chegar em todos os lugares e que chegue em todos os lugares. O feitiço ele chega em qualquer lugar que ele tem que chegar. Já não vejo que a minha arte tem um espaço certo, se tiver que estar dentro de um museu, que esteja dentro de um museu, mas se tiver de ser num espaço aberto, que seja nesse espaço aberto, se for na rua, que seja na rua.
Ou seja, tu praticas a tua arte a partir de um não lugar e também como rejeição às fronteiras convencionais sociais?
É totalmente isso.
Identificas-te como um corpo de género dissidente, racializado e gordo. Como é que a tua identidade influencia a tua criação artística, especialmente em relação ao movimento e à experiência corporal?
Passa muito por esse lugar da negação. É pegar todos esses lugares de negação e transformá-los em possibilidades, diversas possibilidades. Porque aí eu entro nesse lugar da negação enquanto corpo do direito ao movimento. Também compreendendo que existe essa colonização também dentro dos corpos. Chegando aqui em Portugal, eu consegui compreender muito isso. A estrutura corporal das pessoas brasileiras é outra, é completamente diferente! Chegando aqui, eu me deparo com isso, eu falo assim: realmente tem uma grande diferença e agora eu estou entendendo de onde realmente vêm esses padrões que são tão estipulados nesse lugar onde ninguém tem esse padrão. Mas que ainda assim é obrigatório lutar o máximo possível para chegar nesse lugar.
Por conta desses lugares que me foram negados, do movimento, do direito à dança, do direito a me expressar, do direito a ver o meu corpo livre… eu falei “não, vou fazer tudo ao contrário”. Vocês me negam isso, mas eu vou fazer tudo [o que me negam], porque é meu por direito. Novamente é esse ensinamento colonial de separar as coisas e colocar numa caixinha. Eu fui compreendendo que andar é uma dança, que o nosso movimentar é uma dança, que eu estar aqui falando com você de alguma forma, os meus lábios fazem um movimento, isso é uma dança, sabe. Novamente esse processo de colonização foi me retirando o meu desejo, a capacidade, o direito de me movimentar livremente, sem entender o olhar, sem julgamento, sem certo ou errado, sem taxações.
Acho que o meu trabalho é isso, pegar tudo aquilo que me foi negado, me podado, e falar não, é isso que eu quero. E esse é o grande feitiço também, lançado para o mundo. É esse o grito mesmo por liberdade, e desse lugar de tipo, não me conheço, não sei o que eu sou, vocês tentaram me moldar. Passei por esse processo de molde, mas agora eu me coloco no lugar de abrir mão desses moldes e me jogar para aquilo que eu desconheço porque vocês não me permitiram conhecer. Mas quero conhecer esses lugares desconhecidos, que me foram retirados.
Também tens o desejo de explorar outras formas de expressão artística?
Sim, tenho muito desejo. A música é algo que me move profundamente. Sinto que o meu trabalho está totalmente atrelado à música. Então, quero explorar outros lugares musicais, as percussões, as sonoridades, para que também possa acrescentar e aprender no meu trabalho. O que tenho feito ultimamente é isso, encontrar outras pessoas e trabalhar com elas, fazendo trocas de conhecimento. Quando falo desse processo — para dar continuidade ao que estava dizendo anteriormente — já não me interessa mais, assim como a arte, não me interessa mais entrar em debates e disputas, porque posso construir outras possibilidades. Assim como a humanidade que me foi negada, posso construir outras formas de ser.
Foi-me negada [a humanidade] e apontaram-me diversas outras coisas. Enquanto corpo gordo, apontaram que eu era uma baleia. Chegando aqui [em Lisboa] como uma pessoa negra, uma das primeiras coisas que ouvi, inclusive enquanto trabalhava num quiosque, foi “macaco”. Por conta da dissidência de género, por não me enxergar como uma mulher e também não me enxergar como um homem. Acho que negar esses lugares é negar a colonização. Tipo, negar o que me foi vendido, o que me foi taxado, o que me foi feito engolir.
Então, passo por esse lugar da negação para entrar nessas outras, como já disse, nessas outras mil e uma possibilidades de ser no mundo. E isso é muito interessante também, eu acredito, porque mesmo como inspiração, dá outras possibilidades aos próprios seres que estão aqui. Sabe, de olhar e [perceber] que existem outros caminhos que posso seguir, outras possibilidades de fazer, assim como vi em outras pessoas também, esse lugar delas entenderem que para elas não cabia… esse lugar da cisgeneridade, esse lugar da branquitude, e foram escolhendo e fazendo os seus caminhos, caminhos esses escuros, completamente escuros.
E, mais tarde, foste um dos fundadores de uma casa para pessoas trans e imigrantes, a Casa T.
Dois anos e meio depois de me mudar para Lisboa, a gente criou a Casa T. Foi um grupo de pessoas: eu, a Puta da Silva, a Gabi e o Billy. Criamos a Casa T em 2020, mesmo durante a pandemia, em agosto. Então, foi mesmo nesse momento que começaram diversos despejos, e aí a gente reparou quem eram os corpos que estavam passando por esse lugar. Tanto que isso aconteceu porque chegou o momento em que três amigues se encontraram e perceberam que os três estavam sem casa pelo mesmo motivo. Isso perdura de 2020 para cá, essa especulação mobiliária. Antigamente, era muito mais difícil arrendar para brasileiros. Hoje em dia, acredito que há uma abertura um pouquinho maior, mas ainda assim, também é complexo. Além desse outro lugar da imigração, há outros recortes que te jogam mais para a margem, e eles tendem a achar que estar nesse lugar marginalizado significa que você é visto como uma pessoa marginalizada e que você não tem possibilidades de arcar com responsabilidade, mas não é bem assim que acontece. Pronto, é ver a gente como grandes baderneiros, bagunceiros e apenas isso. Sendo que não é essa a realidade.
Em agosto de 2020, a gente começou a reparar nessa grande quantidade de pessoas, de amigos que estavam passando pela mesma situação e na necessidade dessas pessoas serem vistas, serem escutadas e terem algum tipo de acolhimento. A gente sabia que isso, vindo do governo, porque já foi tentado antes criar esse diálogo, tanto com o governo quanto com outras associações que têm apoios estatais, que têm um apoio maior aqui dentro de Portugal, sempre era adiado. Então, as nossas necessidades nunca eram urgentes para eles. Só tem urgência para quem vive.
Foi aí que decidimos criar a Casa T, para ser esse lugar de acolhimento, para ser esse lugar de refúgio artístico, para ser esse lugar de cura. Criamos esse lugar com o apoio a priori das pessoas, da sociedade civil, [da forma] como pudessem contribuir. Foi também assim um grande abraço que a sociedade civil nos deu como resposta. E essa resposta é de que as nossas vidas são sim importantes, que a gente está sim fazendo um trabalho importantíssimo dentro da sociedade portuguesa. Então, a gente conseguiu esse apoio, conseguiu abrir a Casa T, e desde então ela vem cumprindo o seu papel de abrigar pessoas, de acolher, de passar por esses movimentos de cura, tudo às vezes de uma forma talvez não tão idealizada, não tão organizada quanto a gente gostaria, mas são as formas com que a gente tem possibilidade, eu acredito que é isso, não deixar de fazer.
É fazer, é lançar, mostrar para a população que sim, tem uma grande massa de pessoas que estão sendo abandonadas, que estão sendo deixadas de lado, que estão à margem, que estão sendo marginalizadas e que precisam fazer alguma coisa a respeito. A sociedade tem uma responsabilidade social com todas essas pessoas.
Quanto ao teu percurso profissional, quais são as tuas perspetivas para o futuro? Há projetos ou temas específicos em que estás a trabalhar atualmente?
Sim, agora estou a trabalhar num projeto chamado Corpo Lento. Tive a oportunidade de apresentar uma pequena amostra dele num festival que estava a decorrer na Casa Independente, do Procurar-se. Em novembro, também terei a oportunidade de apresentá-lo em Évora, Lisboa e fora de Portugal. Neste momento, estou imerso no processo criativo.
O Corpo Lento aborda a ideia do corpo em relação à lentidão, explorando também o corpo lento associado à corpulência, à grandeza, à gordura. Explora esse espaço da movimentação lenta, compreendendo que, de alguma forma, esse corpo sempre esteve em constante pressa, correndo muito. Eu pensava que havia um destino final, que eu precisava estar nessa corrida incessante. Na verdade, não cheguei a essa conclusão sozinho; a sociedade me empurrou para esse ponto. Agora, é o momento de parar, refletir e descansar. No meu trabalho, coloco o descanso como um ponto chave, reconhecendo a importância desse repouso, da lentidão do corpo e das outras possibilidades de movimento além da corrida, indo além do desgaste físico, psicológico e emocional. Quais são as outras possibilidades que esse corpo pode explorar? É nesse ponto que entro na pesquisa e na criação.